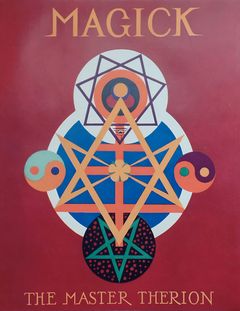
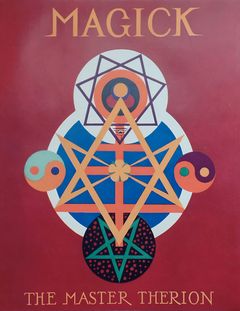
Capítulo VI
Dhyana ¶
Essa palavra tem dois significados diversos e mutuamente exclusivos. O primeiro refere-se ao resultado em si. “Dhyana” é a mesma palavra que o pali “Jhana”. O Buda distinguiu oito Jhanas, os quais são evidentemente diferentes graus e tipos de trance. Certos hindus, também falam de Dhyana como de um tipo menos elevado de Samadhi. Outros, porém, tratam de Dhyana como uma mera intensificação de Dharana. Patanjali diz: “Dharana é manter a mente concentrada em algum objeto particular. Uma corrente contínua de percepção daquele objeto é Dhyana. Quando, abandonando todos os efeitos, isto refletir apenas a origem destes, é Samadhi”. Ele combina estes três em Samyama.
Nós trataremos Dhyana antes como um resultado do que como um método. Até aqui os autores clássicos nos forneceram um roteiro mais ou menos seguro; mas quando entram no assunto dos resultados da prática da meditação, eles perdem completamente a cabeça. Esgotam as imagens poéticas para declarar coisas evidentemente falsas. Por exemplo, lemos no Shiva Sanhita que “aquele que se concentra diariamente no lótus do coração é ardentemente desejado pelas filhas dos Deuses, obtém clariaudiência, clarividência, e pode andar sobre o ar.” Outra pessoa poderá “fazer ouro, descobrir remédios para doenças, e ver tesouros escondidos.” Tudo isto é puro lixo. Qual será a maldição que acompanha a experiência religiosa, para que seus princípios devam sempre estar associados com todo o tipo de exagero e falsidade?
Existe uma exceção: é a A∴A∴, cujos membros tomam extremo cuidado em não fazer nenhuma asserção que não possa ser verificada pela experiência; e onde a verificação não é fácil à pessoa média, eles evitam qualquer afirmação que possa ser interpretada como dogma. Em um dos livros de instrução prática dessa Ordem estão escritas estas palavras:
Se fizermos certas coisas, obteremos certos resultados. Prevenimos estudantes seriamente contra a tendência de atribuir realidade objetiva ou validade filosófica a qualquer de tais resultados.
Que palavras áureas!
Ao discutirmos Dhyana, pois, seja claramente compreendido que algo inesperado vai ser descrito.
Devemos considerar sua natureza e avaliar sua qualidade de uma maneira perfeitamente imparcial, sem nos permitirmos exageros poéticos, ou deduzir qualquer teoria da natureza do universo partindo de tão poucos dados, por mais notáveis que pareçam. Um pequeno fato pode destruir qualquer teoria existente; isto é a coisa mais comum, e a base mesma do progresso científico. Mas nenhum fato, por si só, é suficiente para dele se construir uma teoria.
Deve ser compreendido que Dharana, Dhyana e Samadhi formam uma sequência progressiva. Quando, exatamente, chegamos ao clímax, não tem importância; falemos antes do clímax em si, pois isto é coisa que a gente experimenta, e é uma experiência notável.
Quanto a Dhyana, no curso de nossa concentração percebemos que o conteúdo da mente a qualquer momento (desde que bem concentrada) consiste de apenas duas coisas: o Objeto da meditação, variável, e a Vontade Mental, ou Sujeito, aparentemente invariável. O clímax de Dharana consistiu em que o Objeto foi tornado tão invariável quanto o Sujeito.
O clímax de Dhyana consiste em que estes dois – Sujeito e Objeto – se tornam um. Este fenômeno usualmente é um tremendo choque quando pela primeira vez ele se manifesta. É indescritível mesmo por mestres da linguagem, portanto não nos surpreende que gaguejadores semianalfabetos chafurdem na verborreia.
Todas as faculdades poéticas e todas as faculdades emocionais são arrebatadas em uma espécie de êxtase. A ocorrência vira a mente de pernas para o ar, e faz com que o resto da vida pareça, em comparação, absolutamente sem valor.
Boa descrição por escrito é geralmente o resultado de uma capacidade de observação clara e um julgamento sadio expressados da forma mais simples. Por este motivo, nenhum dos grandes acontecimentos históricos (como terremotos ou batalhas) já foi bem descrito por testemunhas visuais, a não ser que estas estivessem, pessoalmente, fora de perigo. Mas em Dhyana o observador está bem no centro do terremoto… Mesmo quando, pela constante repetição do fenômeno, nos acostumamos a Dhyana, nenhuma descrição parece adequada.
Uma das formas mais simples de Dhyana pode ser chamada “o Sol”. O Sol é visto (por assim dizer) em si mesmo, não por um observador; e se bem que o olho físico não pode contemplar o sol, nós nos sentimos compelidos a afirmar que este “Sol” é muito mais brilhante que o sol natural. A experiência inteira ocorre em um nível mais elevado.
Também as condições do pensamento, e do tempo e do espaço, são abolidas. É impossível explicar o que isto realmente significa. Somente a experiência mesma fornecerá compreensão.
(Isto tem analogia com a vida mental ordinária; as concepções da matemática avançada, por exemplo, não podem ser assimiladas pelo principiante, nem explicadas ao leigo.)
Outro desenvolvimento de Dhyana é a aparição da Forma que tem sido universalmente descrita como humana, se bem que as pessoas que assim a descrevem passam a adicionar um grande número de detalhes que absolutamente não são humanos! Esta particular aparição é geralmente descrita como sendo “Deus”.
O que quer que ela realmente seja, o resultado na mente do estudante é tremendo: todos os seus pensamentos são incitados ao máximo de desenvolvimento. Ele acredita sinceramente que eles têm “sanção divina”. Talvez até ele acredite que eles emanam diretamente desse “Deus”! Ele retorna ao mundo armado com esta intensa convicção e autoridade. Ele proclama suas ideias sem aquela circunspeção que a dúvida, a modéstia e a timidez impõem à maior parte das pessoas1. Podemos supor que, além disto tudo, seu psicossoma foi realmente clarificado e está mais bem coordenado.
De qualquer forma, a massa da humanidade está sempre pronta a ser influenciada por qualquer impulso assim tão autoritário e incisivo. A história está cheia de relatos de oficiais que, desarmados, enfrentaram um regimento amotinado e o reduziram à disciplina pela simples força de sua confiança. O poder do orador sobre uma multidão é bem conhecido. É provavelmente por isto que os profetas têm sido capazes de constrangir a humanidade a obedecer às suas leis. Nunca passa pela cabeça de um profeta que qualquer pessoa possa agir de outra forma! Na vida diária, nós podemos passar por qualquer guardião, tal como um sentinela ou um coletor de bilhetes, se pudermos realmente agir de tal forma que ele seja de algum modo persuadido de que temos o direito de passar sem impedimento.
Este poder, aliás, é aquele que tem sido descrito por magistas como o poder da invisibilidade. Alguém escreveu um excelente conto sobre quatro homens de confiança que estavam de sobreaviso, à espera de um assassino e tinham instruções para não deixar passar ninguém. Todos juraram subsequentemente, na presença do cadáver, que ninguém passara por eles. Nenhum dos quatro notara o carteiro.
Os ladrões que roubaram a “Gioconda” do Louvre estavam provavelmente disfarçados de serventes, e roubaram a pintura no nariz do guarda. Possivelmente lhe solicitaram ajuda.
É apenas necessário crer que uma coisa deva acontecer para fazê-la acontecer. Esta “crença” não pode ser apenas emocional, ou apenas intelectual. Ela reside numa porção mais profunda da mente, porém uma porção não tão profunda que a maior parte dos homens, provavelmente todos os homens bem sucedidos, não possam compreender o que dizemos, tendo tido experiências análogas em suas próprias vidas.
O mais importante fator em Dhyana, porém, é a aniquilação do ego. Nossa concepção do Universo será completamente transtornada se admitirmos essa possibilidade como válida. É hora de considerarmos o que, realmente, está acontecendo.
Deve ser admitido que demos uma explicação muito racional da grandeza dos grandes líderes religiosos e, por extensão, dos grandes homens em geral. Eles tiveram uma experiência tão arrebatadora, tão fora de proporção com o resto das coisas, que foram libertados de todos os obstáculos mesquinhos que impedem o homem normal de realizar seus projetos.
A preocupação com roupa, comida, dinheiro, o que os outros podem pensar, como agir e por que agir, e, acima de tudo, o medo das consequências, pesam sobre quase todo o mundo. Em teoria, nada é mais fácil para um anarquista do que matar um governante. Ele tem apenas que comprar um rifle, tornar-se um atirador de categoria, e dar um tiro no governante a uma distância de quatrocentos metros. No entanto, se bem que haja muitos anarquistas, há poucos atentados. Ao mesmo tempo, a polícia seria provavelmente a primeira a admitir que, se qualquer homem estivesse realmente cansado de viver, no mais íntimo do seu ser (um estado muito diverso daquele em que os homens usualmente resmungam que estão cansados da vida), ele poderia de algum jeito matar antes outra pessoa.
Ora, a pessoa que experimentou qualquer das formas mais intensas de Dhyana está psicologicamente livre. O Universo foi destruído para ela, e ela para o Universo. A vontade da pessoa pode, portanto, ser exercida sem obstáculos. Podemos imaginar que, no caso de Maomé, ele alimentara durante anos uma tremenda ambição, e nunca fizera nada porque aquelas suas qualidades que subsequentemente se manifestaram em capacidade administrativa o tinham avisado de que ele era impotente. Sua “visão na caverna” deu-lhe aquela confiança que lhe faltara, aquela fé que move montanhas. Existem muitas coisas que parecem sólidas neste mundo que poderiam ser derrubadas pelo toque de uma criança; mas ninguém tem coragem de tocá-las.
Aceitemos provisoriamente esta explicação da grandeza dos grandes homens, e passemos adiante. A ambição nos trouxe até aqui; mas agora estamos mais interessados no trabalho em si.
Um fenômeno espantoso aconteceu conosco: tivemos uma experiência que faz o amor, a fama, as honrarias, a ambição, a riqueza, parecerem um tostão; e começamos a nos perguntar apaixonadamente. “O que é a verdade?” O Universo ruiu em nossa volta como um castelo de cartas, e nós mesmos – ou o que pensávamos ser nós mesmos – ruímos com ele. No entanto, esta derrocada é como a abertura das Portas do Céu! Eis aqui um tremendo problema, e existe algo dentro de nós que tem fome de solucioná-lo.
Vejamos que explicações podemos achar.
A primeira ideia que ocorreria a uma mente equilibrada, familiarizada com a ciência, é que experimentamos um colapso mental. Da mesma forma que um golpe na cabeça faz um homem “ver estrelas”, assim também poderíamos supor que a tremenda tensão mental provocada por Dharana sobre-excitou o cérebro de alguma maneira, e causou um espasmo, ou possivelmente rebentou mesmo algum pequeno vaso. Parece não haver motivo para rejeitarmos por completo esta explicação, se bem que seria bastante absurdo supor que aceitá-la é condenar a prática de Dharana. Espasmo é a função normal de pelo menos um dos órgãos do corpo humano. Que o cérebro não é danificado pela prática fica provado pelo fato de que muita gente que afirma ter tido esta experiência repetidamente continua a exercer as vocações de sua vida material sem diminuição de eficiência ou atividade.
Podemos por tanto descontar o aspecto fisiológico como explicação. Não explica o nosso problema principal, que é o valor dos testemunhos desta experiência pouco usual do cérebro.
Ora, este é um problema difícil, e provoca o problema ainda mais difícil da validade de qualquer tipo de testemunho. Todo pensamento humano possível já foi posto em dúvida em alguma ocasião, exceto o pensamento que apenas pode ser expresso por um ponto de interrogação, desde que duvidar deste pensamento é afirmá-lo! (Para uma completa discussão veja “The Soldier and the Hanchback”.) Mas à parte esta profunda dúvida filosófica, existe a dúvida cotidiana, mais simples e mais prática. A frase popular “duvidar de nossos próprios olhos” indica que usualmente a evidência dos nossos sentidos é aceita; mas isto é coisa que nenhum cientista moderno faria! O cientista está tão cônscio de que os seus sentidos constantemente o enganam que inventa os mais complexos instrumentos a fim de verificar e corrigir as mensagens desses sentidos. E ele além disto está cônscio de que o Universo que ele pode perceber diretamente através dos sentidos, mesmo corrigindo-os e vigiando-os pelo uso de instrumentos, é uma fração mínima do Universo que ele conhece indiretamente.
Por exemplo, quatro quintos do ar atmosférico consistem de nitrogênio. Se alguém trouxesse uma garrafa de nitrogênio para dentro desta sala seria enormemente difícil dizer o que é que a garrafa contém. Quase todos os testes que poderíamos aplicar ao conteúdo dariam resultados negativos. Nossos sentidos nada nos poderiam dizer.
O gás “nobre” argônio só foi descoberto pela comparação do peso do nitrogênio quimicamente puro com o peso do nitrogênio do ar. Isto já tinha sido feito muitas vezes, mas ninguém antes dispusera de instrumentos suficientemente delicados para medir a discrepância, ou até percebê-la. Para dar outro exemplo, um famoso cientista afirmou, faz poucos anos, que a ciência nunca poderia descobrir a composição das estrelas fixas. No entanto isto já foi feito, e muito bem, através do espectroscópio.
Se perguntássemos ao cientista qual a sua teoria sobre o “real”, ele responderia que o éter que não pode ser percebido por nenhum dos sentidos, ou determinado por nenhum instrumento, e que possui qualidades que (para usar linguagem leiga) são impossíveis, é muito mais real do que a cadeira na qual ele está sentado. A cadeira é apenas um fato; sua existência é testemunhada só por uma pessoa, e esta pessoa bem falível. O éter é a dedução necessária tirada de milhões de fatos, os quais foram repetidamente verificados e provados por toda experimentação possível. Não existe, portanto, qualquer motivo para se rejeitar a priori qualquer coisa, apenas com o argumento de que ela não pode ser percebida por nossos sentidos.
Para mencionar outro ponto: um dos nossos testes do que é verdadeiro é a vividez de nossas impressões. Um evento isolado no nosso passado é pouco importante, e pode sumir de nosso consciente; e se for de algum modo relembrado, somos capazes de nos perguntar: “Será que eu sonhei isto? Ou aconteceu mesmo?” O que nós não esquecemos nunca é o catastrófico. A primeira morte de uma pessoa amada, por exemplo, nunca seria esquecida: pela primeira vez nos tornamos cônscios daquilo que anteriormente apenas tínhamos ouvido contar. Uma tal experiência às vezes enlouquece as pessoas. Alguns cientistas se suicidaram quando uma teoria predileta foi provada falsa. Este problema é livremente discutido em Ciência e Budismo2, Tempo, O Camelo, e outros ensaios de Aleister Crowley. Aqui é apenas necessário comentar que Dhyana tem que ser classificado como a mais vívida e a mais catastrófica de todas as experiências. Isso será confirmado por qualquer um que tenha chegado lá.
Portanto, é difícil exagerar a importância que uma tal ocorrência tem para o indivíduo com quem ocorre. Especialmente desde que é a nossa concepção de todas as coisas, inclusive a nossa concepção mais íntima, aquela que tinha servido de centro e ponto de referência de todas as outras, a nossa concepção de nós mesmos, que é demolida. E quando a gente procura explicar este acontecimento como uma suspensão temporária de nossas faculdades, como uma alucinação, ou coisa semelhante, verificamos que somos incapazes de acreditar em tais explicações. Você não pode discutir com um raio que acaba de lhe arremessar ao chão!
Toda coisa que é mera teoria é facilmente negável. Podemos encontrar falhas na nossa cadeia de raciocínio; podemos assumir que as premissas são, de uma maneira ou outra, falsas. Mas se atacamos desta forma a evidência a favor de Dhyana, nossa mente tem que encarar o fato de que qualquer outra experiência que já tivemos, atacada nas mesmas linhas e pelo mesmo método, cairá bem mais facilmente.
Por onde quer que examinemos a questão, o resultado será sempre o mesmo. Pode ser que Dhyana seja uma ilusão; mas se assim for, tudo o mais de que temos consciência é uma ilusão também.
Ora, a mente sadia se recusa a persistir numa crença da irrealidade de suas próprias experiências. Pode ser que elas não sejam o que parecem ser; mas devem ser alguma coisa, e se (em geral) a vida normal é alguma coisa, quanto mais aquilo à cuja luz a vida normal parece como nada!
Ora, a mente sadia se recusa a persistir numa crença da irrealidade de suas próprias experiências. Pode ser que elas não sejam o que parecem ser; mas devem ser alguma coisa, e se (em geral) a vida normal é alguma coisa, quanto mais aquilo à cuja luz a vida normal parece como nada!
O homem comum percebe a falsidade, a incoerência e a falta de propósito dos sonhos; ele os atribui (com razão) a uma mente em desordem. O filósofo contempla a vida normal com um desprezo análogo, e a pessoa que experimentou Dhyana é da mesma atitude, mas não mais por mera convicção intelectual. Explicações lógicas, por apropriadas que sejam, nunca convencem por completo; mas a pessoa que experimentou Dhyana tem a mesma certeza simples de alguém que acorda de um pesadelo: “Eu não estava caindo num poço sem fundo, foi apenas um mau sonho.”
A reflexão da pessoa que teve Dhyana é exatamente análoga: “Eu não sou aquele mísero inseto, aquele imperceptível parasita da terra; foi apenas um mau sonho.” E da mesma forma que você não pode convencer o homem comum de que seu pesadelo era mais real que seu despertar, você não pode convencer esta outra pessoa de que seu Dhyana foi apenas uma alucinação, embora ela agora esteja penosamente cônscia de que recaiu daquele estado à sua existência “normal”.
É provavelmente muito raro que uma única experiência transforme assim radicalmente uma concepção toda do Universo, da mesma forma que algumas vezes, ao despertarmos, ainda nos resta uma dúvida fugaz de se o despertar ou o sonho é real. Mas quando a experiência se repete, quando Dhyana não é mais um choque, quando o estudante teve tempo bastante para se acomodar ao seu novo plano de consciência, sua convicção se torna absoluta3.
Outra consideração racional é esta: o estudante não esteve tentando excitar a mente, e sim acalmá-la; não esteve tentando produzir um pensamento, mas sim excluir todos os pensamentos; pois não existe relação entre o objeto da meditação e o Dhyana. Por que devemos então supor uma derrocada do processo inteiro, ainda mais se a mente não demonstra quaisquer traços subsequentes de interferência, tais como dor ou fadiga? Certamente nesta ocasião, se em nenhuma outra, uma das imagens dos hindus expressa a explicação mais simples. Esta imagem é a de um lago em que cinco glaciares se movem. Estes glaciares são os cinco sentidos. Enquanto o gelo (as impressões) está constantemente se quebrando e caindo no lago, as águas são sacudidas. Se os glaciares ficam parados, a superfície se torna calma; então, e apenas então, pode ela refletir o disco do sol. Este sol é a “alma”, ou “Deus”.
Devemos, porém, evitar o uso de termos tais como “alma” e “Deus” por enquanto, por causa das coisas em que eles implicam. Falemos antes deste sol como de alguma coisa desconhecida anteriormente, cuja presença tinha sido velada por todas as coisas conhecidas e pelo conhecedor mesmo.
Também é possível que nossa “memória” de Dhyana não seja a do fenômeno em si, mas a da imagem que ele deixou na nossa mente. Porém isto é verdade de qualquer fenômeno, como já foi provado além de qualquer dúvida por Berkeley e Kant. Este assunto, porém, não precisa nos ocupar. Queremos resultados, não teorias.
Podemos, então, provisoriamente aceitar o ponto de vista de que Dhyana é real; mais real e, portanto, mais importante para nós, que qualquer outra experiência que tenhamos tido previamente. É um estado que tem sido descrito não apenas pelos hindus e budistas, mas também por maometanos e crististas. No caso dos crististas, porém, o preconceito profundamente arraigado torna seus documentos e relatos sem valor para o homem comum. Eles passam por alto as condições essenciais à ocorrência de Dhyana e insistem nas condições sem importância com muito mais frequência que os melhores escritores hindus. Mas para qualquer pessoa com experiência de meditação e algum estudo comparativo de religiões, a identidade do fenômeno é evidente. Podemos agora tratar de Samadhi.
Esta falta de controle não deve ser confundida com aquela observada em embriagados ou em loucos. Existe, porém, uma notável semelhança, embora superficial. ↩︎
Veja Crowley, Collected Works, vol. III. ↩︎
Devemos observar que no presente não existem ainda dados para determinar a duração de um Dhyana. Não se pode dizer mais que, desde que o fenômeno ocorreu entre tais e tais horas, ele deve ter durado menos do que o período de tempo computado. Por exemplo, vemos nos relatórios de Frater Perdurabo que Dhyana pode certamente ocorrer em menos de uma hora e cinco minutos. ↩︎
Traduzido por Marcelo Ramos Motta (Frater Ever). Revisado por Frater ΑΥΜΓΝ.
